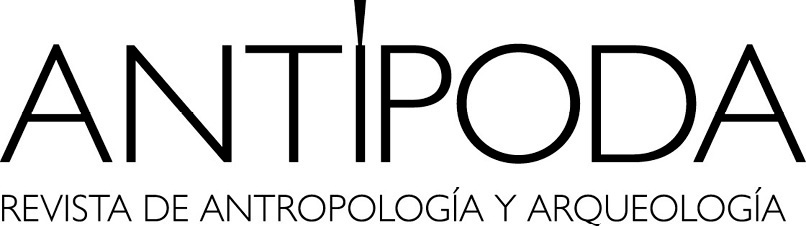
Uma abordagem etnográfica do parentesco no candomblé: o caso do nagô do Recife, Pernambuco, Brasil*
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil
https://doi.org/10.7440/antipoda59.2025.04
Recibido: 2 de agosto de 2024; aceptado: 1 de febrero de 2025; modificado: 14 de marzo de 2025.
Resumo: este artigo aborda a composição do parentesco no candomblé do Recife, Pernambuco, Brasil. Com uma abordagem etnográfica, explora-se como são formadas e concebidas as famílias de santo, a partir da relação entre duas categorias centrais: santo, que remete às relações instauradas pelo ritual, e sangue, relativas ao parentesco consanguíneo. Demonstro como tais linhas (santo e sangue) são constantemente articuladas por meio das atividades rituais do candomblé, em uma relação de distinção (e não oposição) entre elas, de modo que o parentesco resulta e produz, ao mesmo tempo, relações constituídas pelo santo e aquelas pelo sangue — sendo esta uma composição que se replica constantemente em diferentes escalas e dimensões da vida do candomblé nagô. Como resultado da análise, observa-se como a família de santo — e, portanto, o próprio parentesco — se configura enquanto uma extensa rede que conecta casas, pessoas, divindades e antepassados. A discussão apresentada se fundamenta em debates antropológicos sobre as religiões de matriz africana e em abordagens contemporâneas do parentesco, objetivando, em primeiro lugar, articular tais campos por meio desta etnografia. Com isso, contribui com novas reflexões sobre o parentesco enquanto propiciado pelo ritual. Desse modo, evidencia, ao mesmo tempo que busca superar, as dualidades clássicas dos campos de estudo, como unidade familiar, consanguinidade e ritual, dado e feito, substância e simbolismo.
Palavras-chave: antropologia afro-brasileira, candomblé, família de santo, parentesco, religião de matriz africana.
Aproximación etnográfica al parentesco en el candomblé: el caso de los nagô de Recife, Pernambuco, Brasil
Resumen: el artículo aborda la composición del parentesco en el candomblé de Recife, Pernambuco, Brasil. Utilizando un enfoque etnográfico, explora cómo se forman y conciben las familias de santos, a partir de la relación entre dos categorías centrales: santo, que se refiere a las relaciones establecidas por el ritual, y sangre, relativa al parentesco consanguíneo. Demuestro cómo estas categorías, santo y sangre se articulan constantemente a través de las actividades rituales del candomblé, en una relación de distinción —y no de oposición— entre ellas, de modo que el parentesco resulta y produce, al mismo tiempo, relaciones constituidas por el santo y la sangre —siendo esta una composición que se replica constantemente en diferentes escalas y dimensiones de la vida del nagô candomblé—. Como resultado del análisis, vemos cómo la familia del santo —y por lo tanto el propio parentesco— se configura como una extensa red que conecta casas, personas, deidades y antepasados. La discusión presentada se basa en los debates antropológicos sobre las religiones de matrices africanas y en los enfoques contemporáneos del parentesco, con el objetivo de articular estos campos a través de esta etnografía. Al hacerlo, contribuye a generar nuevas reflexiones sobre el parentesco propiciado por el ritual. De este modo, pone de relieve, al tiempo que trata de superar, las dualidades clásicas de los campos de estudio, como la unidad familiar, la consanguinidad y el ritual, lo dado y lo hecho, la sustancia y el simbolismo.
Palabras clave: antropología afrobrasileña, candomblé, familia del santo, parentesco, religión de matriz africana.
An Ethnographic Approach to Kinship in Candomblé: The Case of the Nagô in Recife, Pernambuco, Brazil
Abstract: This article examines the composition of kinship within the Candomblé tradition of Recife, Pernambuco, Brazil. Drawing on an ethnographic approach, it explores how families of saints are formed and understood through the interplay of two central categories: santo (saint), referring to relationships established through ritual, and sangre (blood), referring to biological kinship. The study demonstrates how these two lines—santo y sangre, ritual and blood—are continually interwoven through the ritual practices of Candomblé, forming a relationship marked by distinction rather than opposition. Kinship thus emerges through a dynamic synthesis of ritual and blood ties—a composition that recurs across multiple scales and dimensions of Nagô Candomblé life. The analysis reveals how the santo family—and therefore kinship itself—is configured as an expansive network linking houses, individuals, deities, and ancestors. The discussion engages with anthropological debates on African diasporic religions and contemporary kinship theories, aiming to bridge these fields through ethnographic inquiry. In doing so, it offers new reflections on the forms of kinship generated through ritual, challenging traditional binaries in kinship studies—such as family vs. ritual, biology vs. symbolism, the given vs. the made, and substance vs. meaning.
Keywords: African-derived religion, Afro-Brazilian anthropology, Candomblé, kinship, santo family.
A composição entre diferentes substâncias é central nos rituais do candomblé, sendo o sangue a principal delas. O sangue dos animais é o meio privilegiado para criar diferentes participações entre homens e outros seres — divindades e espíritos. É também o sangue que alimenta um orixá e fortifica o vínculo deste com seu filho. Além disso, demarca o vínculo criado ritualmente entre as pessoas. Ele é, portanto, um modo de relação. O sangue aparece ainda sob uma noção de consanguinidade, explicando como membros de uma família de santo percebem-se como únicos e singulares em relação aos demais. É o sangue uma força que permite, por exemplo, o domínio de execuções ritualísticas, formas específicas de cantar, e que organiza a rede de casas e famílias do candomblé do Recife.
Assim, este texto explora etnograficamente a composição das famílias de santo no candomblé e a relação entre os dois termos referenciais do parentesco nesse universo: santo e sangue. O objetivo deste artigo é descrever o que o parentesco produz a partir da experiência de casas religiosas — os terreiros — constituídas simultaneamente por famílias consanguíneas e espirituais. Situado entre dois campos consagrados da disciplina antropológica — o parentesco e as religiões de matriz africana —, o texto busca conectar os debates contemporâneos das duas áreas a partir de uma questão etnográfica central: como as relações de parentesco são pensadas e atualizadas nas religiões de matriz africana.
O solo etnográfico da pesquisa abrange uma extensa rede de terreiros localizados no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco, cidades de extrema relevância para a diáspora negra nas Américas. Mais especificamente, teve como tema central a composição do parentesco na casa de candomblé nagô Ilê Iemanjá Ogunté, no Recife. Essa família configura-se como uma extensa rede de casas, pessoas, divindades e antepassados, relacionados a partir de duas linhas criadas pelo ritual: a do sangue e a do santo.
Nos estudos sobre as religiões afro-brasileiras, sob a expressão “o Xangô de Recife”, encontramos descrições sobre cultos de origem africana que, a exemplo de seus cognatos no Brasil, têm rituais de iniciação, transe mediúnico, sacrifícios de animais e que se organizam em terreiros, liderados por pais e mães de santo, formando extensas redes de casas de santo por meio de famílias genealógicas vinculadas a nações de origem, como nagô, xambá, jeje, as quais, por sua vez, possuem características próprias em relação aos rituais, ao repertório de cânticos e ao conjunto de orixás cultuados (Carvalho 1984; Halloy 2005; Motta 1988; Pinto Filho 2020, 2015; Segato [1995] 2000).
O terreiro mais antigo em funcionamento do Recife é o Sítio de Pai Adão, Ilê Obá Ogunte, um dos mais importantes terreiros do Brasil. Sua fundação remonta ao início da década de 1970 e foi realizada por uma nigeriana. Sua fundadora, Inês Joaquina da Costa, cujo nome africano era Ifátinuké, filha de Iemanjá Ogunte, trouxe os principais objetos rituais da casa. Ela teria vindo da África como africana liberta e se instalado na então região do Baixo Beberibe. Com a morte de Tia Inês, como era conhecida, quem passa a liderar o terreiro foi Felipe Sabino da Costa, mais conhecido como “Pai Adão”. Do Sítio, tido como epicentro do culto nagô, originaram-se várias “ramas” que, em conjunto, denotam uma “família”.
A família de santo do nagô, das quais participam as pessoas que apresento ao longo do texto, funcionam como uma rede, “a rede nagô”, como bem apontou Arnaud Halloy (2005, 131), a qual “delimita um campo de relações preferenciais expresso no vocabulário da consanguinidade” (2005, 32). Assim, concomitante à história do Sítio, temos a da família Felipe da Costa1, descendentes consanguíneos de Adão, e que constituem o terreiro Ile Iemanjá Ogunte, dissidência do Sítio de Pai Adão. As principais pessoas com as quais convivi dessa família foram Pai Paulo (Paulo Braz Felipe da Costa), falecido em 2016, sua irmã Mãe Lu (Maria Lucia Felipe da Costa), além de filhos, sobrinhos e netos. Com eles, venho desenvolvendo minha pesquisa desde 2012 e é a partir de suas elaborações sobre seu mundo que segue minha descrição.
Meu ponto de partida é a distinção (e não oposição) estabelecida pelos integrantes do terreiro sobre esse aspecto fundamental da família; uma disposição que se replica, em diferentes escalas, nas demais dimensões da vida do nagô, que são expressas por meio do parentesco — como iniciação, transmissão de nomes, objetos rituais, assentamentos, capacidades intuitivas e criatividade, coexistência entre diferentes modalidades religiosas, conformando heranças espirituais nas quais o sangue e o santo surgem como linhas coextensivas dispostas pela ação ritual.
Nas abordagens recorrentes na literatura antropológica (Lima 1977; Motta 1988; Segato [1995] 2000), a tensão entre santo e sangue é ora forçada para uma separação completa entre as duas dimensões, ora sintetizada pela substituição de um termo pelo outro. No caso do nagô, variante religiosa de matriz africana presente no Recife, também conhecida na literatura antropológica como “xangô”, essa tensão entre santo e sangue também se faz presente, sendo central em sua organização e funcionamento. No lugar de tentar superá-la, neste artigo, busco considerar tal tensão como uma relação entre figura e fundo, ou seja, tomar a consanguinidade como um fundo de preexistência diante do qual a participação no universo do candomblé emerge como figura.
Tendo feito essa introdução, delineio agora o caminho do texto. O artigo apresenta uma revisão crítica dos estudos sobre a questão da família de santo na literatura afro-brasileira, revelando uma tensão entre os conceitos de “sangue” (parentesco consanguíneo) e “santo” (parentesco ritual), frequentemente interpretados como domínios opostos. A discussão reflete uma atualização das teorias clássicas de parentesco e busca questionar tais dicotomias, como consanguinidade versus parentesco simbólico, ao propor uma abordagem mais dinâmica e contextualizada das relações familiares nos terreiros. Em seguida, apresento como a questão da família de santo se estrutura nos candomblés do Recife, a partir do contraste entre o sangue e o santo, entendido por meio de sua natureza ritual. O parentesco é expresso e formulado pelo ritual. Os vínculos e diferenciações tornam-se mais evidentes a partir dos complexos procedimentos envolvidos na iniciação. Por fim, argumento que, ao menos para o candomblé do Recife, as famílias de santo são indissociáveis das consanguíneas, ou seja, nesse plano, elas não se distinguem enquanto formas organizacionais familiares. Com efeito, é como se a família de santo motivasse a existência da família consanguínea ou que o sangue só emergisse como termo marcado no interior das relações de santo.
A família de santo na literatura afro-brasileira
Apesar da centralidade da “família de santo” no universo do candomblé, na história da etnologia afro-brasileira, nota-se a ausência de estudos relacionados ao campo do parentesco e as objetivações antropológicas sobre o tema não tiveram grande desenvolvimento. A exceção é a clássica dissertação de Vivaldo da Costa Lima de 1977, “A família de santo nos candomblés jejes-nagôs da Bahia”, e os poucos trabalhos subsequentes exploraram o assunto lateralmente. Não obstante, destaca-se como, ao tratarem da configuração familiar das casas religiosas, tais trabalhos apresentam a questão do sangue e do santo enquanto uma diferenciação inerente ao universo dos terreiros. Mais ainda, tais trabalhos pressupõem que os terreiros estão inseridos na sociedade envolvente em uma relação de dominação de um termo pelo outro, e por isso o parentesco de santo seria um domínio destacado, resultante de uma disposição sociológica anterior.
A questão que me parece central nesse debate é: o modo usual de descrever tal relação acaba por situá-la como uma oposição que possui longa trajetória disciplinar. Essa trajetória remete-nos às oposições fundantes, como aquela entre sociedades do status, em que a consanguinidade possuiria um valor proeminente, e sociedades do contrato, em que a família em seu núcleo doméstico se opõe ao espaço público e político. Em suma, minha interpretação é que a oposição construída entre santo e sangue, na literatura antropológica das religiões de matriz africana, é uma atualização da relação entre consanguinidade e contrato feita nos primeiros estudos de parentesco e organização social.
O citado trabalho de Vivaldo Costa Lima é um bom ponto de partida para introduzir a discussão sobre família de santo no candomblé da Bahia. Ancorada em um trabalho de campo de longa duração e feita com mais de 23 terreiros na capital baiana, sua questão movimenta-se entre o caráter estrutural funcionalista dos modos de organização da vida social dos terreiros por ele estudados. Uma de suas proposições mais gerais diz respeito à exclusão, ocorrida no Brasil, da família de sangue pela família de santo. Segundo o autor, ao entrar na família de santo, o iniciado ganharia uma nova família que substituiria a de sangue. Esse é um argumento importante de reter. Tal afirmativa só é possível por assumir que famílias negras ou de baixa renda seriam desestruturadas segundo os valores da sociedade envolvente. Como efeito dessa desestruturação, as famílias negras sofreriam um aprisionamento conceitual dentro de um duplo caso de adaptação: no primeiro caso, seria uma adaptação dos negros escravizados à família patriarcal branca; no segundo, uma adaptação de estilos e padrões africanos que sobreviveriam no Brasil. Variações desse argumento são encontradas em trabalhos subsequentes sobre a família de santo.
De certo modo, deparamo-nos com estratégias analíticas dessa tradição intelectual, que pensa as religiões afrobrasileiras como expressão de uma relação mais fundamental, a exemplo das etnografias africanas, que seria o parentesco. A comparação entre o contexto brasileiro e o africano torna implícito outro tipo de operação com os dados etnográficos, uma espécie de impulso que presume como realidades objetivas os dois registros teóricos do campo do parentesco — notadamente as noções de filiação (e descendência) e de aliança. Tais formulações passam necessariamente a apresentar esses pressupostos e a operacionalizá-los nas discussões sobre a família de santo.
Na introdução de Lima (1977), o autor aponta para o que define como “sistemas empíricos”: a família de santo, os laços de parentesco estruturados em bases sociobiológicas e a sociedade global em que os dois sistemas se inserem. É curioso notar, como mostro adiante, que os trabalhos sobre a família de santo, ao menos parcialmente, organizam suas análises dentro dessa tríade, centrando-se entre um sistema formado pela família de santo, a família consanguínea e a estrutura social mais ampla. De todo modo, o estudo de Lima enfatiza as dimensões classificatórias do parentesco de santo, da sua estrutura e sua hierarquia, sempre a partir do que ele entende como papéis sociais dos membros do terreiro:
As religiões iniciáticas africanas que marcaram o candomblé brasileiro eram, sobretudo, religiões de linhagens ou de tribos em que a instituição da família desempenha um papel preponderante [...] [N]o candomblé, nas linhagens recriadas através dos laços da descendência mística do culto aos orixás, também se obedece, com maior ou menor rigor, às interdições das sociedades unilineares. (Lima 1977, 179)
Esse recorte do autor insere a questão da solidariedade, tida como base para a formação e manutenção do grupo, o qual é constituído a partir do relacionamento de pais e mães de santo com seus filhos de santo e destes entre si. O elemento que fundamenta essa questão é principalmente a onomástica vocativa de “pai” ou “mãe” advinda da relação estabelecida com seus filhos no momento da iniciação. Um tipo de paternidade classificatória na qual o conceito de família biológica cederia, por motivos externos, seu lugar a outra de natureza distinta, nesse caso, a família de santo. Nesta, figuraria a mãe de santo como autoridade máxima do grupo, a chefe da família de santo.
Essa abordagem ainda possui como horizonte teórico, por um lado, as discussões sobre descendência e organização social, centradas na etnologia africana da época, e, por outro, o vínculo dos terreiros no Brasil com a África, onde a família de santo e a família de sangue seriam a mesma família, dado que os orixás pertenciam a uma linhagem paterna pela qual eram transmitidos. Lima (1977) oferece uma importante mudança teórica relativa à leitura dos materiais etnográficos e históricos oriundos dos povos iorubá e fon, afirmando que a relação entre terreiros brasileiros e África deve ser entendida em termos de influência, e não permanência, pois, no território africano, os ditos sistemas religiosos estariam intimamente ligados a outros dois: o de parentesco e o de linhagem familiar. Segundo um dos pressupostos funcionalistas, seria natural e obrigatório que os membros da linhagem representassem seu grupo no sistema religioso.
Essa ênfase ou tensão entre os dois sistemas atravessa todo o trabalho de Lima. Sua afirmação peremptória da substituição da família consanguínea pela de santo é parte central de seu argumento. Contudo, há inúmeras passagens etnográficas que, se não chegam a negar totalmente o argumento, tornam a situação mais complexa ao evidenciar uma quase indiscernibilidade entre os dois modos, como o autor mesmo demonstra:
Mas sempre é certo que pertencer a uma família que é de candomblé, isto é, ser socializada num grupo familiar que tem no candomblé o seu sistema de crença religiosa; ter em seu processo “inculturativo” a visão constante da presença do orixá — tantas vezes presente no corpo de uma mãe ou de uma irmã de sangue [na nota que segue ao termo de sangue o autor explica que a expressão “irmã” ou “mãe de sangue” se opõe, na linguagem do candomblé, à de “santo”. Diz-se também “irmã” ou “mãe de carne”] se criado num ambiente em que predominam os valores, e as normas de conduta subsumidas as sanções sobrenaturais dos orixás — tudo isto já predispõe a pessoa, de um ponto de vista não apenas cultural ou linearmente psicológico, à crença e participação efetiva no culto. (Lima 1977, 62)
Essa formulação nos remete àquelas já clássicas sobre o estatuto da noção de “família”, tendo como fundo conceitual a noção de “grupo”. O binômio “família-casa” funcionaria, nessa inferência, ao refletir a organização social e a dinâmica pregressa em menor escala, enquanto suas derivações se encarnam nos membros, o que a tipificaria como promotora das relações de produção, de solidariedade e de tensões e cisões.
Tais pressupostos sociológicos dessa concepção de família são encontrados argumentum ad nauseam nos discursos e teorias sobre a formação nacional, da qual a família figuraria como uma espécie de instituição, com reflexos jurídicos e políticos sobre e contra a sociedade. Essas teorias contam com toda uma tradição intelectual no campo das teorias sociais brasileiras, tendo como um dos trabalhos percussores a obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre (1933).
Freyre se dedica em seu livro a escrever uma nova orientação sobre a formação do Brasil a partir do estudo sobre a família brasileira, em especial sobre a família patriarcal fundada na casa-grande. A senzala era, para ele, uma continuidade das relações de poder engendradas por esse patriarcado, por meio de agregações parciais e subalternas ao núcleo conjugal dos senhores, desenvolvidas e, como sabemos, submersas em violência. Louis Marcelin (1996), em uma crítica certeira à formulação freyriana, demonstra como essa visão totalizante, apenas inaugurada por Gilberto Freyre e continuada por outros estudiosos, expressa pelo sintagma “casa-grande-senzala”, do qual o último termo é apenas um agregado do primeiro, “criou uma versão excessivamente verticalizada e monolítica do regime de plantation” e, principalmente, criou uma noção de que não haveria família de escravos, mas “escravos participando da vida do senhor”, retratando os negros desprovidos de qualquer autonomia (Marcelin 1996, 52).
Na esteira desses debates, o estatuto da família negra continua no cerne do debate antropológico, em especial os realizados por antropólogos norte-americanos em Salvador, na virada dos anos 1930 e 1940. Em vez da permanência do modelo jurídico português da família patriarcal, o que motivou o debate nesse período foram as elaborações sobre a permanência ou não de estruturas africanas na formação dos grupos familiares negros. Esse debate tinha como pano de fundo o contraste entre a integração racial dos negros nos Estados Unidos e no Brasil e a influência ou não de traços estruturantes africanos na organização dessas famílias. As informações que embasavam esse debate foram extraídas do mesmo contexto: comunidades negras de Salvador, em especial famílias que faziam parte da comunidade do terreiro do Gantois.
Para Franklin Frazier (1943, 1942), importante sociólogo norte-americano, a estrutura familiar negra e seus aspectos culturais seriam produtos da escravidão e, por consequência, uma adaptação a situações de pobreza e violência às quais os negros baianos estavam submetidos. Segundo o autor, esses fatores levavam ao desagregamento das famílias, fazendo permanecer, então, apenas os laços mais duradouros dos núcleos familiares, qual seja, a relação entre a mãe e seus filhos.
Em direção oposta, o antropólogo Melville Herskovits (1956, 1943b, 1943a) defendia que essa configuração da família negra brasileira advinha da permanência de formas tradicionais culturais e de vida africanas adaptadas ao novo mundo. A relação entre mães e filhos é, nesse sentido, central nas famílias negras como prova da tenacidade e sobrevivência do lugar da maternagem nas sociedades do oeste africano, comuns em sociedades de linhagens patrilocais e poligâmicas, nas quais a organização social das linhagens se dava pela descendência dos filhos de várias mulheres com o mesmo homem, o que tornava a relação, do ponto de vista dos filhos e das relações de afetividade, mais proeminente na relação entre uma mãe e um filho.
Essa divergência foi explicitada em uma discussão em artigos publicados no início dos anos 1940, na American Sociological Review. Apesar de antagônicas, tais posturas se inseriram no contexto de combate ao racismo norte-americano. De um lado, valorizavam-se os aspectos culturais africanos e sua capacidade de resistir à adaptação imposta pelo mundo branco; de outro, destacava-se a não singularidade das comunidades negras no Novo Mundo e o caráter eminentemente social de sua situação, o que tornava passível sua reversão com a melhoria das condições sociais e econômicas.
A partir dos anos 1980, outro ciclo de pesquisas sobre a família de santo se consolida (Silverstein 1979; Segato 1984). Nesses novos trabalhos, em consonância com a emergência de uma perspectiva sociopolítica para a análise das religiões afro-brasileiras, procura-se ver a família de santo não mais como a imagem de uma sobrevivência africana, e sim como resultado da influência da sociedade envolvente. Em certo sentido, há uma continuidade do argumento de Frazier; no entanto, agora não se trata mais de uma ação dessas comunidades diante dos efeitos da escravidão, mas de um procedimento ativo das casas de candomblé em recompor suas famílias perante a experiência da escravidão e do patriarcado.
Partindo da crítica feminista sobre os estudos de parentesco (Rubin 1975), esses trabalhos buscavam explicar a família de santo em relação à família patriarcal, recorrendo à figura da mãe de santo para compreender o vínculo entre candomblé e sociedade envolvente:
A mãe-de-santo, como mãe da família-de-santo, se situa aparentemente dentro da definição social contemporaneamente predominante de mulher: uma fêmea biológica que preenche o papel de esposa e mãe dentro da instituição da família. A família-de-santo não é sinônimo de família nuclear normativa, ainda que às vezes é interpretada como tal. Ela é uma família ligada por laços de parentesco ritual, ao invés de sangue e casamento, e é também um tipo de comunidade, um grupo doméstico. Nestas comunidades as mulheres negras e pobres assumem e mantêm posições de poder e dominação sobre, entre outras pessoas, homens brancos de classe média e, menos frequentemente, alta. Então, o Candomblé serve de máscara e espelho da ideologia dominante na sociedade brasileira, assim como das redes materiais que a sustentam. O Candomblé se reproduz incorporando novos membros à família-de-santo em linha de parentesco ritual com vários graus de comprometimento. É neste sentido que podemos considerar a mãe-de-santo uma mãe de todo mundo. (Silverstein 1979, 55)
Seguindo essa argumentação, Segato ([1995] 2000, 1984), por exemplo, destaca o esforço de libertação, por parte dos membros do xangô pernambucano, das categorias ideologicamente dominantes na sociedade patriarcal, como as categorias de gênero, de família e de sexualidade. A exemplo de Silverstein, a interpretação de família pode ser pensada em separado dos papéis de gênero presentes no candomblé. Essa constatação é o que informa sua análise e serve como ponto de partida para interpelar o pouco ou nenhum destaque dado no candomblé ao matrimônio, entendido, para Segato, sobretudo, como instituição social. Podemos exemplificar seu argumento nesse trecho:
Como uma unidade social, a família-de-santo coloca ao alcance dos seus membros um sistema de parentesco alternativo que é organizado e estável, apesar de ser bastante esquemático, o que libera as pessoas da incerteza de terem que depender unicamente da cooperação e solidariedade das relações de parentesco legítimo, que são, geralmente, frágeis e pouco articuladas. Neste sentido, a família-de-santo simula uma família afro-americana simples e internamente confiável, já que se apoia em sanções sobrenaturais e é ritualmente legitimada. Em alguns casos, quando o membro provém de uma família bem constituída nos termos da ideologia dominante na sociedade brasileira, a família-de-santo funciona como uma extensão daquela, ampliando a rede de pessoas que podem ser chamadas a ajudar em caso de necessidade. Este sistema tem a peculiaridade de não excluir as mulheres da liderança familiar, como é o caso da família patriarcal, nem os homens, como acontece com a família matrifocal, já que qualquer homem ou mulher iniciados dentro do culto tem a possibilidade aberta de tornar-se chefe de uma família-de-santo. (Segato [1995] 2000, 36)
O risco dessa abordagem é a reificação da noção de família. A partir daí, ao não destacar a conotação política de família, a teoria sobre a família de santo assumiria uma explicação meramente teológica. Uma chave para esse tipo de pressuposto pode ser encontrada, por exemplo, em Roger Bastide ([1960] 1971), quando o autor afirma que, na África, os orixás são transmitidos, prioritariamente, via linhagens masculinas — e outras formas de estabelecimento de relação com essas divindades são possíveis a partir de tal sistema —, ou seja, há a possibilidade de ter duas divindades simultaneamente ou alguma margem de troca no decorrer da vida.
O que Bastide explicita com isso é que, com a experiência traumática da escravidão e com a consequente quebra de linhagens, haveria um abandono da transmissão por meio delas, e as relações com os orixás passariam a ser efetuadas exclusivamente por outras vias. A explicação de Bastide, por um lado, pode ser alegórica do tratamento que dados oriundos de pesquisas em territórios africanos vieram a receber nas análises sobre o candomblé no Brasil. A justaposição dos contextos africano e brasileiro, implícita ou explicitamente, busca explicar a experiência brasileira pela etnografia africana. Esse ato revela uma postura derivada, por sua vez, de outras presunções, explicando o parentesco de santo nas religiões de matriz africana no Brasil do ponto de vista exclusivo de adaptações sócio-históricas. Por outro lado, se a formulação apresentada por Bastide aponta para a ruptura das relações de parentesco em relação aos orixás entre Brasil e África, é essa mesma formulação do autor que permite pensar, tal como constatou Goldman (2012), que, se tais adaptações ocorreram, não foram como meras repostas arbitrárias a uma determinada situação ou evento histórico. Trata-se de predominâncias e alternativas que, como propõe Goldman, se pensadas na chave transformacional, denotam as atualizações desse sistema.
Outra passagem de Bastide que me parece sugestiva sobre esse processo de substituição de regras de determinação de pertença pela divinação, e não pela descendência patrilateral, é a indicação de que a determinação do orixá poderia se dar por mais de um modo. Entendido enquanto fluxo, considero que sua configuração histórica não nos permite cristalizar tais alternativas como uma forma acabada, mas como um movimento contínuo de criação e diferenciação:
Da mesma forma, a religião africana tendeu a reconstituir no novo habitat a comunidade aldeã à qual estava ligada e, como não o conseguiu, lançou mão de outros meios; secretou, de algum modo, como um animal vivo, sua própria concha; suscitou grupos originais, ao mesmo tempo semelhantes e todavia diversos dos agrupamentos africanos. O espírito não pode viver fora da matéria e, se essa lhe falta, ele faz uma nova. (Bastide [1960] 1971, 32)
Há nessa formulação uma rotação de perspectiva em relação ao processo adaptativo desses coletivos. Uma adaptação como sinal de sua vitalidade e resistência a condições de extrema violência e adversidade, e não mera influência de pressões externas aos primeiros. Essa capacidade não está localizada apenas no passado, mas também, como veremos, trata-se de um impulso constante de criação desses coletivos que se atualiza no cotidiano dos terreiros.
Como se percebe nesse breve panorama, os estudos sobre família de santo operam uma série de reduções da noção de “família” a partir de determinados pressupostos. Acabam por dizer menos sobre como as pessoas elaboram suas relações de santo e mais sobre as imagens antropológicas construídas sobre elas. Ao buscar uma reflexão sobre parentesco de santo no Recife, tomo o cuidado de não reificar (nem generalizar) pressupostos teóricos sobre a família de santo que as vejam como modelo de organização ou de grupo social e evito reduzir suas especificidades às explicações “externalistas”, que recorrem à sociedade ou a conjecturas históricas sobre sua formação.
Foram apenas trabalhos recentes sobre o candomblé que formularam novas questões etnográficas sobre a família de santo. Ainda que o objetivo deles não fosse tecer formulações estritamente sobre o parentesco das famílias de santo, eles são fundamentais para esta tese. Em primeiro lugar, o trabalho de autoria de Arnaud Halloy (2005) trata exatamente da mesma família da qual trabalhei, os Felipe da Costa, descendentes de Pai Adão no culto nagô do Recife, e a tese de doutorado de Clara Flaksman (2014), por sua vez, em sua etnografia, dialoga com os principais debates tecidos na etnologia afro-brasileira em relação à experiência análoga da composição de uma família de sangue e de santo no candomblé baiano.
Arnaud Halloy (2005) propôs um sistema em que coexistem duas formas de transmissão do saber, ou seja, duas formas de aprendizado: a consanguínea, descrita por ele como “modelo biológico”, e a transmissão por participação, descrita como “modelo culturalista”. Esses modos distintos de conhecimento seriam, na sua visão, complementares entre as duas formas de aprendizado. O primeiro modelo seria restrito à família de Pai Adão (o fundador do terreiro) e seus descendentes diretos, e o segundo seria adquirido pelos outros integrantes do terreiro sem vínculo consanguíneo com a família. Embora reconheça a existência de uma distinção dessa ordem, não a entendo como modelos distintos que operariam por complementaridade. Outra ressalva que faço é que esse modelo de transmissão não é de modo algum restrito aos descendentes de Pai Adão; pelo contrário, quase que a totalidade de pessoas com as quais convivi em meu campo elaborou suas experiências religiosas a partir das noções de sangue e descendência.
Clara Flaksman (2014) faz sua pesquisa em terreiros de Salvador, especialmente o Gantois, terreiro que compartilha a experiência de ser dirigido por pessoas de dentro de uma mesma família consanguínea. Flaksman, que se concentra em torno da noção de “enredo” no candomblé — noção que, de algum modo, toca diretamente nas relações de parentesco, como a autora mesmo o diz:
O argumento central aqui contido é de que o uso muito frequente do termo “enredo” é reflexo de um modo de existência múltiplo, um modelo de relacionamento intrinsecamente ligado ao candomblé. A escolha do termo se deve justamente à sua pluralidade de significados, dentre os quais me detenho em três que considero especialmente representativos desse modelo: enredo enquanto narrativa, enquanto modo de relação e como sinônimo de emaranhamento. Ter enredo é ter uma relação; ou melhor, um complexo de relações. A utilização mais frequente do termo diz respeito aos laços familiares, que por sua vez também podem ser múltiplos e diversos. Ou seja, quando alguém me dizia que eu tinha enredo, estava querendo dizer, em última instância, que eu tinha uma relação familiar, ancestral — fosse direta ou indireta — com algum orixá; e seria então pela vontade deste que eu estaria ali naquele momento. Essa relação pode se dar de inúmeras maneiras e em diferentes planos — pois um enredo pode dizer respeito tanto a relações entre orixás quanto a relações entre seres humanos e ainda, muito frequentemente, entre humanos e orixás. Essas relações acontecem em planos de existência diversos — o que, no caso dos orixás, tanto tem a ver com os orixás “gerais”, as entidades propriamente ditas, quanto com os orixás “individuais”, que devem sua existência, salvo raras exceções, à feitura de algum filho ou filha de santo. (Flaksman 2014, 7)
Dito de outro modo, para a autora, o conceito de “enredo” descreveria múltiplas relações nas quais, em suas palavras, a transmissão pelo sangue teria um papel fundamental para os praticantes do candomblé: “Pois ter enredo é ser um pouco aquilo com que se relaciona, participar da natureza do outro, ter correndo nas veias tanto o sangue quanto as relações e as histórias que compõem a pessoa no candomblé” (Flaksman 2014, 133).
Tal argumentação permite que eu apresente como percebo a relação entre sangue e santo. Em vez de construir uma equivalência entre o que as pessoas entendem como descendência ao traçar suas genealogias e os argumentos estrutural-funcionalistas sobre descendência, por exemplo, Flaksman apoia-se em outra imagem para entender tal relação, trazendo para sua argumentação a descrição de Ordep Serra sobre a noção de “axé”, força presente e atuante por meio de orixás, ancestrais, espíritos e outros seres do candomblé. “Iniciar-se”, nessa perspectiva, “equivale a filiar-se a esses ancestrais — e no caso não importa a genealogia ‘real’ do sujeito” (Serra 1995, 37). Embora a diferenciação entre a genealogia de santo e a consanguínea implique a presunção de que o sangue seja mais “real”, para usar um termo do autor, o axé permite estabelecer uma conexão entre os filhos de santo e seus orixás, o que Flaksman define como “parentesco ontogenético”.
Com o modelo da família de santo extensiva à família de sangue, criou-se um modelo de parentesco ontogenético, onde o santo — ou, em última instância, o axé — se transmite pelo sangue, e onde as descendências (de sangue e de santo) seguem alguns padrões que iremos examinar a seguir. Verifica-se uma preocupação constante com a reconstrução desses laços de parentesco, marcada principalmente pela busca de uma linhagem que seja concomitante, tanto de santo quanto de sangue. (Flaksman 2014, 127)
Uma abordagem etnográfica do parentesco no candomblé
Não é possível encontrar nas etnografias sobre o candomblé um modelo abrangente que dê conta das diferentes composições das relações entre o parentesco de sangue e o de santo. Logo, não proponho um inventário geral das diversas manifestações dessa relação. O caráter comparativo dessa questão, nesse caso, apontaria não para o caráter geral dessa relação, e sim para suas particularidades. Dito de outro modo, tomo como referência os exemplos em que essa relação surge mais como uma força, um vetor de transmissão constitutivo da relação entre pessoa e santo (e das dimensões daí derivadas), do que como uma regra prescritiva dos relacionamentos. No caso da minha etnografia, interessam os modos como certas disposições da família de santo são elicitadas a partir da concepção nativa sobre heranças espirituais que vinculam pessoas, orixás e ancestrais.
O parentesco e o contraste entre o sangue e o santo é entendido a partir, e por meio, de sua natureza ritual. Suas diferenciações são elicitadas e tornam-se mais evidentes no complexo procedimento da iniciação. Esta enquanto ato de ligação entre uma pessoa e seu orixá, e dessa pessoa e uma rede de parentes (mãe, pai, padrinho, madrinha, irmãos). Suas operações rituais separam as linhas de santo e de sangue constitutivas de uma pessoa, resultando na evitação de proximidades ou semelhanças excessivas — limite expresso pela interdição da iniciação ritual de uma pessoa por seus ascendentes diretos consanguíneos.
A iniciação é um longo processo que pode englobar progressivas cerimônias ou constituir-se em um único ato (lavar a cabeça) que garantirá o vínculo daquela pessoa com seu orixá e seus iniciadores. Um dos principais vetores dessa ação ritual é o sangue, ou melhor, a linha de força que conecta uma pessoa aos seus ascendentes consanguíneos e aos rituais. Na iniciação, uma nova composição entre essas linhas é criada, refletindo a interdição de uma pessoa ser iniciada pelos seus ascendentes consanguíneos diretos, mas reelaborando-os a partir de uma nova organização disposta pelo ritual iniciático.
Fica evidenciado o modo relacional por meio do qual os termos de parentesco surgem no candomblé. Como disse a mãe de santo Maria Lucia Felipe da Costa, “só se é pai ou mãe de santo quando se tem um filho de santo”. Essa elaboração não é tautológica em relação a significações desses termos à luz das nossas concepções de consanguinidade. O sistema denota o encadeamento dessas relações a partir de uma composição. Vários estudiosos das religiões de matriz africana reconhecem a relação mãe ou pai de santo e filhos de santo como centrais na constituição das famílias de santos nos terreiros. Mas, como se sabe, os termos de parentesco designam muito mais do que apenas nomes, já que eles expressam relações necessárias entre duas entidades: uma mãe é sempre uma mãe para alguém.
Os termos mais elementares das relações entre uma família de santo são pai e mãe, filho e filha. Usam-se também irmãos e irmãs, tios e tias, avôs e avós, que, embora relevantes, não são da mesma importância dos primeiros, aparecendo mais como referenciais. Como apontou Halloy (2005, 32), a “família de santo delimita um campo de relações preferenciais expresso no vocabulário da consanguinidade”. Essa distinção surge e torna-se evidente em relação à iniciação. A formulação das pessoas tende a considerar a diferenciação quanto à igualdade dos referentes à sua função (pais, mãe e filhos) entre si de acordo com a perspectiva de consanguinidade mais abrangente. Por comodidade, utilizei até aqui os termos “santo” e “sangue” como se fossem, no interior da família de santo, equivalentes. Essa aproximação não é de toda excessiva, pois também é utilizada pelos meus anfitriões. Contudo, é preciso descrever suas diferenças e principalmente as conexões que esses termos produzem.
O ritual em geral é uma mediação em determinado contexto, com o objetivo de produzir uma nova composição de uma pessoa e de uma família dentro de um regime de encadeamento de linhas de força que compõem uma casa de santo. As pessoas frequentemente vinculam essas duas cadeias de relação na composição de suas famílias dentro das casas de santo. Nesse sentido, a distinção entre uma noção de família — ou núcleo familiar latu senso — e família de santo como uma forma de organização derivada da primeira não traduz corretamente essas relações. A família de santo não substitui o núcleo familiar consanguíneo. Ao menos para o candomblé do Recife, as famílias de santo são indissociáveis das famílias consanguíneas, e estas não se constituem como duas formas de organização, domínios ou entidades distintas, porque não há, na perspectiva de seus praticantes, uma distinção dessa ordem. Isso leva ao argumento central do artigo, a saber: o “sangue” surge como termo marcado a partir das relações de santo.
Variações dessa situação podem ser encontradas em outros lugares, como o estudo de Lima, com outra configuração. Nos candomblés da Bahia, segundo Lima (1977, 44), “a linhagem familiar” e a “linhagem do santo” podiam ser integradas apenas em casos relacionados às dimensões hierárquicas de um terreiro, como um exemplo sobre o qual esse fato parece incidir. Sobre esse ponto, Barbosa Neto (2012, 117) afirma, ao analisar o batuque gaúcho, que “é bem provável que essa ‘mãe-de-ventre’, que era também mãe-de-santo, não pudesse iniciar ritualmente a sua própria filha, dada a interdição que impede, em algumas casas, o duplo vínculo de filiação, e que, às vezes, se estende também à relação de aliança”, e continua:
Nos dois casos, sempre se herda pelo sangue (pois o santo se faz com sangue), podendo haver, contudo, variação em termos do axé distribuído por vínculos de consanguinidade que podem incluir, em delicadas alianças rituais, os laços de filiação mítica, ou então do axé distribuído por estes últimos que não necessariamente incluem os primeiros. É significativo que os materiais de Lima chamem a atenção para a possibilidade de uma elisão da mediação ritual e da qual resulta uma conexão direta, ou indireta se for o caso de alguma herança familiar, com a filiação mítica. (Barbosa Neto 2012, 114-115)
No Recife, o sangue é o principal meio por onde passam as relações de santo, e isso não se expressa apenas ao nível da organização de uma casa com proeminência dos laços consanguíneos, mas como um dado comum aos praticantes do nagô, que associam seus vínculos com o santo à sua presença em seu sangue. Esses vínculos não são expressivos dessas linhas, mas, antes, as dispõem de modo a serem passíveis de transmissão — daí seu sentido compulsório. Desse modo, a iniciação, traduzida como uma “filiação”, não apenas instaura uma relação entre a pessoa e seu santo, mas também a estende para o iniciado e seus iniciadores e para os próprios orixás.
O percurso ritual de uma iniciação começa com uma etapa anterior voltada aos seus antepassados rituais e consanguíneos. Se a primeira produz a diferença entre o sangue e o santo, a segunda opera uma adição, e mesmo indiscernibilidade, entre as linhas de santo e de sangue, na medida em que seus antepassados rituais passam a ter o mesmo estatuto de ascendentes a serem cultuados (ainda que não inteiramente do mesmo modo).
Quando o iniciante realiza as obrigações aos antepassados, gera um segmento em sua linha ascendente consanguínea que incorpora os rituais e, do seu ponto de vista, ambos tornam-se um só — todos os antepassados trabalham e atuam por ele. Uma vez sob essa configuração, tal conjunto passa a ser transmitido enquanto algo único para os descendentes consanguíneos desse iniciado. A exemplo desse caso etnográfico, não havia qualquer vinculação de sangue entre Pai Adão e Tia Inês, pois esta era sua mãe de santo. Mas, ao longo do tempo, Tia Inês foi incorporada como um ancestral de Pai Adão pelos descendentes consanguíneos deste último, para os quais ela é tão ancestral quanto ele. Assim, nas gerações subsequentes, a diferenciação entre ancestrais de sangue e rituais é eclipsada, e a diferença torna-se de grau, e não de tipo.
Além disso, na ocasião da iniciação, a separação entre santo e sangue é operada na medida em que, na acepção nativa, quem gera uma vida pela parte do sangue não pode ser a mesma pessoa a fazê-lo pela parte do santo. Nessa articulação entre as linhas, em vez de se adicionarem os ascendentes espirituais aos de sangue, elas são separadas — ainda que momentaneamente — e ocorre uma nova segmentação.
Desse modo, a relação entre santo e sangue no candomblé está infletida pela diferença da natureza das pessoas, dos antepassados e dos orixás, que requerem, cada um ao seu modo, tratamentos rituais específicos. Se, com os antepassados, a relação é de adição e indiscernibilidade, a iniciação aos orixás produz justamente a singularização e, portanto, a diferença quanto à consanguinidade.
Conclusão
Como discutido na introdução, os primeiros debates sobre a família de santo assumiam o dualismo entre a religião da linhagem familiar e a religião da comunidade, esta tida como expressão dos cultos às divindades no oeste africano (ver Bastide [1960] 1971; Herskovitz 1943b; Lima 1977), argumentando que, no Brasil, haveria a separação entre o culto familiar das divindades e sua reconstrução em famílias rituais. A noção de família levou adiante essa premissa dualista de laços familiares e laços ritualísticos, ganhando outro contorno binário atinente às dimensões mais internas do culto e das expressões religiosas de maior alcance.
No escopo dos estudos de parentesco, deve-se a David Schneider (1984, 1965) uma primeira revisão metodológica dos pressupostos antropológicos desse campo, ao deslocar o debate da pertinência ou não dos modelos — em especial, o de que o parentesco se basearia, primeiramente, na genealogia como fundamento biológico sobre o qual se constituiria uma representação social; ou ainda o de que o parentesco seria uma expressão social que, na mentalidade das pessoas, refletiria as divisões entre natureza, sociedade e cultura.
Segundo Schneider, o parentesco funcionaria como um artifício por meio de projeções e assunções de modelos cada vez mais especializados sobre dados etnográficos cada vez mais dispersos. Os efeitos de tais projeções seriam tomar o parentesco não mais como hipótese, mas enquanto uma realidade nas descrições etnográficas, fazendo tal contraste desaparecer na medida em que fosse revelado. Tudo se passa como se os modelos teóricos e os dados etnográficos tivessem a aparência de uma mesma coisa.
Essa constatação de Schneider foi tomada como uma espécie de “fim dos estudos do parentesco”, impulsionando novos debates nesse campo de estudos e fazendo surgir a chamada “nova antropologia do parentesco”, ou relatedness, que se constitui pelas análises relacionais ou construtivistas do parentesco (Carsten 2000). Essa abordagem foca nos processos de construção de família e parentesco não restritos à análise genealógica e às relações de base biológicas entre pessoas e grupos sociais. Nesse sentido, os laços e vínculos de parentesco, para além de sua expressão centrada na reprodução humana ou no nascimento, são construídos e produzidos nos processos de tornar-se parente em diferentes culturas, seja pela partilha de substâncias (sangue, leite materno, sêmen), seja pela comensalidade e pelas práticas de cuidado, convivência, coabitação, entre outras. Assim, a intepretação antropológica clássica que situa essas relações entre o dado natural e o construto social acaba questionada por uma perspectiva com ênfase nos processos relacionais de construção de parentes.
Entretanto, essa ênfase processual ou construtivista da “nova antropologia do parentesco”, por vezes, abduz uma inversão dos modelos interpretativos entre o dado e o construído. Como alertam Coelho de Souza (2004) e Viveiros de Castro (2009), essa perspectiva mantém os vínculos de parentesco que permanecem “presos a uma concepção do aparentamento, e do corpo em que este se inscreve, como — por analogia ao parentesco e corpo ocidentais — uma questão de ‘substância’” (Coelho de Souza 2004, 28). Ou seja, ao enfatizar os aspectos culturais do que seria entendido como natural, essa corrente teórica não se atém ao fato de que “alguma dimensão da experiência humana deve ser construída (contrainventada) enquanto dado. E isso é tudo” (Viveiros de Castro 2009, 258).
Recentemente, essa discussão foi retomada por Marshal Sahlins (2011b, 2011a), que propôs pensar o parentesco em termos da mutualidade do ser. Esse conceito sugere que o parentesco é feito de participações intersubjetivas entre os parentes, pessoas que são presentes e participantes nas vidas umas das outras, que se pertencem e são membros entre si, e cujas vidas são interligadas e dependentes. Para Sahlins, o parentesco não é algo dado pelo nascimento, pois ele lhe é anterior ou performatizado posteriormente a ele através da ação cultural apropriada, não sendo algo que exige a universalidade de uma substância comum partilhada.
Do ponto de vista deste artigo, não interessa uma definição sobre o que seria o parentesco, mas sobre o que ele é feito e, principalmente, o que ele produz. Nesse sentido, ao aproximar esse debate do campo dos estudos de parentesco para o das religiões de matriz africana, a proposta é pensar quais questões surgem sobre “dado” e “feito”, “sangue” e “código”, “substância” e “relação”.
Descrevi os diferentes modos pelos quais as pessoas do candomblé compõem suas famílias e casas de santo a partir da relação entre as linhas do santo e do sangue, vetores que ora aparecem mais próximos um do outro, ora mais distanciados. Essa relação é, portanto, como um movimento cujo dinamismo evidencia uma tensão constante, que se impulsiona por meio do ritual. Nesse sentido, a distinção construída pela literatura sobre o tema, a saber, entre a noção de família ou núcleo familiar lato sensu e a família de santo como uma forma de organização derivada da primeira, perde sentido. Como vimos, a família de santo não substitui o núcleo familiar consanguíneo nem é uma resposta à desestruturação social e histórica das famílias negras no Brasil.
Este é uma das divergências do meu argumento em relação à literatura sobre as religiões de matriz africana: a distinção entre sangue e santo pode ser de oposição em algumas atividades rituais, mas não seria, de saída, uma norma prescritiva de um sistema de parentesco. É evidente que o cerne da questão pode ser traduzido em termos de sua diferença, e esta é sempre contextual e mediada. Mas estabilizar essa diferença enquanto um a priori tende a congelá-la, como se esta existisse fora da relação por ela precipitada, assumindo que se trata de um fenômeno binário (sangue vs. santo).
Este é um fenômeno muito mais analógico, tal como propõe Roy Wagner (1977), especialmente na noção de que o parentesco constitui um fluxo existente a priori para ser constrangido por ações deliberadas com o objetivo de diferenciar as pessoas, criando comportamentos adequados e desejáveis a partir da troca. No caso Daribi examinado por Wagner2, a interdição é considerada o passo básico e primário na criação da relação de parentesco e é produzida dentro de um mundo conceitual que pressupõe o fluxo analógico resultante da diferenciação, constituída por uma considerável ênfase moral e cerimonial. Nesse modelo, variam as percepções das sociedades sobre a diferenciação: a ocidental acredita em seu inatismo e naturalidade, enquanto outras a veem como um ato deliberado para garantir fluxos relacionais apropriados. Diferente da abordagem genealógica tradicional, que enfatiza a disposição sistemática de correspondências relacionais ao longo de um eixo invariante, a abordagem analógica é necessariamente diacrônica e sequencial, preocupada com a relação como consequência analógica da diferenciação forjada. Por fim, a abordagem analógica também obvia a distinção entre tipo de parente “natural” e relação de parentesco “cultural” ao subsumir terminologia e relação em uma única entidade.
Em meu argumento, o fluxo geral seria o santo e, portanto, a singularização é necessária para a obviação das relações pregressas de parentesco consanguíneo, ou seja, uma frequência que se estabiliza momentaneamente pelo ritual de iniciação, que a modula a partir de um determinado impedimento — mas a todo tempo a tensão entre sangue e santo tende a se recolocar.
É possível afirmar, ao menos para o candomblé do Recife, que as famílias de santo são indissociáveis das consanguíneas, ou seja, nesse plano, elas não se distinguem enquanto formas organizacionais familiares. Com efeito, nesse caso, é como se a família de santo motivasse a existência da família consanguínea ou que o sangue só emergisse como termo marcado no interior das relações de santo. Em outro plano, essas duas dimensões — o santo e o sangue — se segmentam. Portanto, o movimento não é estático, e a família de sangue, por sua vez, reconfigura também a família de santo. Nesse sentido, a própria noção de consanguinidade é transformada ou revertida em novos termos que pressupõem, necessariamente, a participação do universo de referência das divindades.
A iniciação é o ritual que introduz uma pessoa na família de santo, ou seja, cristaliza uma nova disposição da relação entre ela e seu orixá, sua filiação em uma casa, e sua participação em uma rede de parentesco espiritual, passando a ter mãe, pai, padrinhos, madrinhas, irmãos e antepassados. Lembremos que a interdição fundamental da iniciação proíbe que uma mãe ou pai carnal inicie seus próprios filhos. Tal ato distancia as linhas do sangue e do santo, evitando que elas se tornem excessivamente próximas ou indiscerníveis. A questão que se coloca é como uma família consanguínea, na qual as mesmas pessoas sejam simultaneamente parentes de santo e de sangue, se constitui como família de santo. A iniciação reconfigura essa rede de relacionamentos ao dispor um novo enquadramento, de modo que as pessoas passam a interagir não mais “apenas” do ponto de vista das relações consanguíneas, mas também, e principalmente, adicionam a esse conjunto de atitudes os tratamentos relativos às relações de senioridade (e, portanto, hierárquicas) do santo.
No entanto, ao mesmo tempo que traz uma aparente “nova” configuração, a iniciação, de certo modo, mantém e acentua algo que o recém-iniciado já tinha: suas disposições místicas e existenciais próprias ou as da família da qual faz parte. Isso indica que a iniciação não é o determinante no engajamento das pessoas com o culto, mas uma consequência possível de sua relação anterior. Por meio da descendência sanguínea, garante-se que uma família receba de seus antepassados dons espirituais, capacidades de cuidar dos orixás e responsabilidades.
Assim, a relação entre sangue e santo, frequentemente justapostos, ora figura como indiscernível, ora ganha distinções e separações bem marcadas. Tal relação carrega, portanto, uma ambiguidade potencial. Essa variação, e suas diferentes efetivações, é a principal característica da produção do parentesco no candomblé.
Referências
- Barbosa Neto, Edgar Rodrigues. 2012. “A máquina do mundo: variações sobre o politeísmo em coletivos afrobrasileiros”. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. http://objdig.ufrj.br/72/teses/780960.pdf
- Bastide, Roger. (1960) 1971. O candomblé da Bahia: rito nagô. São Paulo: Companhia das Letras.
- Carsten, Janet, ed. 2000. Cultures of Relatedness: New Approaches to the Study of Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coelho de Souza, Marcela. 2004. “Parentes de sangue: incesto, substância e relação no pensamento timbira”. Mana 10: 25-60. https://doi.org/10.1590/S0104-93132004000100002
- Carvalho, José Jorge. 1984. “Ritual and Music of the Sango Cults of Recife, Brazil”. Tese de doutorado, Department of Social Anthropology, The Queen’s University of Belfast, Belfast.
- Fernandes, Albino Gonçalves. 1937. Xangôs do nordeste: investigações sobre os cultos negro-fetichistas do Recife. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Flaksman, Clara Mariani. 2014. “Narrativas, relações e emaranhados: os enredos do candomblé no terreiro do Gantois, Salvador, Bahia”. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. https://buscaintegrada.ufrj.br/Record/aleph-UFR01-000827270
- Frazier, Edward Franklin. 1943. “Rejoinder to Melville J. Herskovits’ The Negro in Bahia, Brazil: A Problem in Method”. American Sociological Review 8: 402-404.
- Frazier, E. Franklin. 1942. “The Negro Family in Bahia, Brazil”. American Sociological Review 7 (4): 465-478. https://doi.org/10.2307/2085040
- Freyre, Gilberto. 1933. Casa-grande e senzala. Rio de Janeiro: José Olympio.
- Goldman, Marcio. 2012. “Cavalo dos deuses: Roger Bastide e as transformações das religiões de matriz africana no Brasil”. Revista de Antropologia 54 (1): 407-432. https://doi.org/10.11606/2179-0892.ra.2011.38604
- Halloy, Arnaud. 2005. “Dans l’intimité des orixás. Corps, rituel et apprentissage religieux dans une famille-de-saint de Recife, Brésil”. Tese de doutorado, L’École des Hautes Études en Science Sociales, Université Libré de Bruxelles. https://hal.science/tel-04260456v1/document
- Herskovits, Melville J. 1956. “The Social Organization of the Afrobrazilian Candomble”. Phylon 17 (2): 147-166. https://doi.org/10.2307/272589
- Herskovits, Melville J. 1943b. “The Negro in Bahia, Brazil: A Problem in Method”. American Sociological Review 8 (4): 394-404. https://doi.org/10.2307/2085800
- Herskovits, Melville J. 1943a. “The Southernmost Outposts of New World Africanisms”. American Anthropologist 45 (4): 495-510. http://www.jstor.org/stable/662732
- Lima, Vivaldo da Costa. (1977) 2003. A família de santo nos candomblés jeje-nagôs da Bahia: um estudo de relações intragrupais. Salvador: Corrupio.
- Marcelin, Louis Herns. 1996. “A invenção da família Afro-Americana: família, parentesco e domesticidade entre os negros do recôncavo da Bahia, Brasil”. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Motta, Roberto. 1988. “Meat and Feast: The Xango Religion of Recife, Brazil”. Tese de doutorado, Department of Anthropology, Columbia University, Nova York.
- Pereira, Zuleica Dantas. 1994. “O Terreiro Obá Ogunté: parentesco, sucessão e poder”. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Pernambuco. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16988
- Pinto Filho, Olavo de Souza. 2020. “A família nagô: composições entre o santo e o sangue no candomblé do Recife”. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Pinto Filho, Olavo de Souza. 2015. “Cadernos nagô. A antropologia reversa do Alapini Paulo Braz Ifamuide”. Dissertação de mestrado. Programa e Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.
- Ribeiro, René. 1952. Cultos afro-brasileiros do Recife. Recife: Instituto Joaquim Nabuco.
- Rubin, Gayle. 1975. “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”. Em Toward an Anthropology of Women, editado por Rayna R. Reiter, 157-210. Nova York: Monthly Review Press.
- Sahlins, Marshall. 2011b. “What Kinship Is (Part Two)”. Journal of the Royal Anthropological Institute 17 (2): 227-242. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2011.01677.x
- Sahlins, Marshall. 2011a. “What Kinship Is (Part One)”. Journal of the Royal Anthropological Institute 17 (1): 2-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2010.01666.x
- Schneider, David M. 1984. A Critique of the Study of Kinship. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Schneider, David M. 1965. “Some Muddles in the Models: Or, How the System Really Works”. Em The Relevance of Models for Social Anthropology, editado por Michael Bantom, 25-86. Londres: Tavistock Publications.
- Segato, Rita Laura. (1995) 2000. Santos e daimones. O politeísmo afro-brasileiro e a tradição arquetipal. Brasília: EdUnB.
- Segato, Rita Laura. 1984. “A Folk Theory of Personality Types: Gods and Their Symbolic Representation by Members of the Sango Cult in Recife, Brazil”. Tese de doutorado, Department of Social Anthropology, The Queen’s University of Belfast, Belfast.
- Serra, Ordep J. Trindade. 1995. Águas do Rei. Petrópolis: Vozes.
- Silverstein, Leni M. 1979. “Mãe de todo mundo: modos de sobrevivência nas comunidades de Candomblé da Bahia”. Religião e Sociedade 4:143-170. https://religiaoesociedade.org.br/revistas/no-04
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2009. “The Gift and the Given: Three Nano-Essays on Kinship and Magic”. Em Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered, editado por Sandra Bamford and James Leach, 264-292. Nova York: Berghahn Books.
- Wagner, Roy. 1977. “Analogic Kinship: A Daribi example”. American Ethnologist 4 (4): 623-642. https://doi.org/10.1525/ae.1977.4.4.02a00030
1 Este é provavelmente um dos casos mais longínquos e efetivos de interlocução antropológica de maior intimidade e duração, abrangendo, diretamente, três gerações de antropólogos: José Jorge de Carvalho e Rita Segato, nos anos 1970, Arnaud Halloy, no início dos anos 2000, e, agora, minha pesquisa. Sem contar o auxílio indireto que prestaram à maioria dos estudiosos do “xangô pernambucano” em diferentes gerações (como Fernandes 1937; Motta 1988; Pereira 1994; Ribeiro 1952, entre outros). De todo modo, era comum a referência a situações de campo vivenciadas por eles com outros pesquisadores. Essas situações, por sua vez, serviam como guia de “boas maneiras” imputadas aos primeiros momentos de nossa relação.
2 A análise desse sistema relacional começa com o interdito relativo à “mãe da esposa”, que surge na forma de um noivado e envolve os futuros noivos, assim como certos parentes seus, especialmente a mãe da futura noiva. Isso resulta na revogação formal e total de interação, e até de reconhecimento, entre, de um lado, o futuro noivo, e, do outro, a futura esposa e sua mãe.
* Este artigo é um desenvolvimento de parte dos argumentos apresentados em minha tese de doutorado, defendida na Universidade de São Paulo em 2020, para a qual recebi o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Para a redação deste artigo, contei também com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Bolsa Pós-Doutorado Nota 10. Aproveito para agradecer os comentários de Noshua Amoras de Morais e Silva, Marcio Goldman e demais colegas do Núcleo de Antropologia Simétrica, que foram excelentes interlocutores para as ideias aqui apresentadas. Por fim, agradeço também aos editores e pareceristas da Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología as recomendações e generosas sugestões que contribuíram significativamente para o aperfeiçoamento deste artigo.
Doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), Brasil. Atualmente realiza pós-doutorado (FAPERJ Nota-10) no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui graduação em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB, 2020) e mestrado em Antropologia Social pela USP. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia das Populações Afro-Brasileiras, interessando-se pelos seguintes temas: teoria antropológica, parentesco e religiões de matriz africana. Atualmente, realiza pesquisas sobre parentesco afro-brasileiro em comunidades do Recife (Pernambuco) e da Ilha de Itaparica (Bahia). É pesquisador vinculado ao Centro de Estudos de Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras (Cerne) do PPGAS-USP e ao Núcleo de Antropologia Simétrica (NAnSi) do PPGAS-Museu Nacional. https://orcid.org/0000-0003-1946-6647